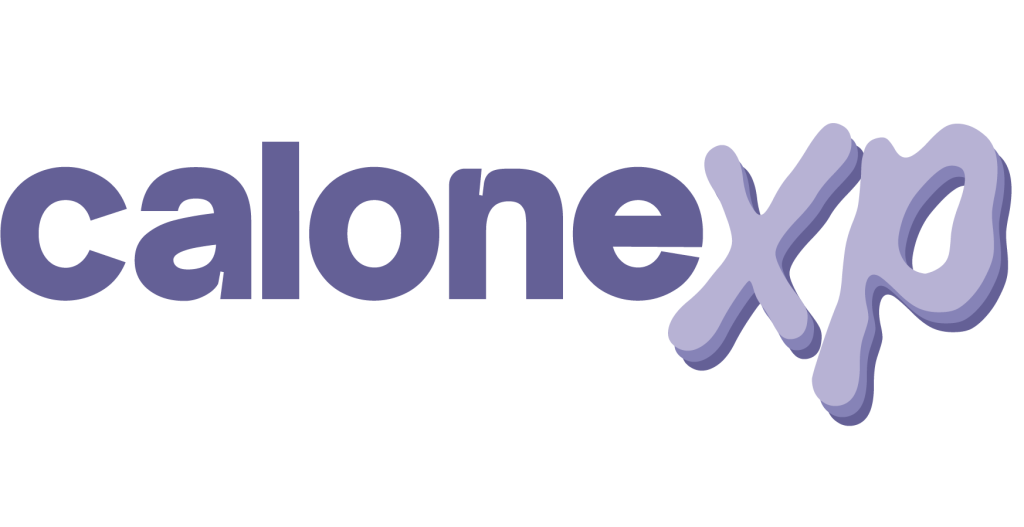Em meio a uma crise econômica global e à ampliação das desigualdades sociais, “Parasita” (2019) segue como um retrato contundente das tensões de classe que se escondem sob a aparência de normalidade nas grandes cidades. Com uma narrativa ácida e visualmente poderosa, o filme escancara o contraste entre duas famílias que vivem realidades opostas: de um lado, os Kim, presos em um semi porão úmido e sufocante; do outro, os Park, cercados por luxo, silêncio e privilégios.
Uma sociedade dividida por degraus invisíveis
No premiado filme sul-coreano Parasita (2019), o diretor Bong Joon-ho cria um retrato inquietante da desigualdade social ao contar a história da família Kim, que vive em um semi porão escuro e úmido, e da família Park, que desfruta o conforto de uma mansão com jardins e serviços sob demanda. O contraste entre os dois mundos vai muito além da renda: mostra o abismo simbólico e estrutural que separa classes sociais inteiras, mesmo quando dividem a mesma cidade.
Mais do que uma crítica direta às elites, Parasita escancara as sutilezas da exclusão: a maneira como os ricos ignoram (ou apenas toleram) os pobres, o papel invisibilizado dos trabalhadores domésticos e a violência latente que surge quando promessas de mobilidade social se mostram inalcançáveis. A escalada dos Kim rumo à casa dos Park é uma metáfora brutal sobre sobrevivência, disfarces e desesperança.
A armadilha da meritocracia e os limites da ascensão social
A trajetória da família Kim passa pela tentativa de se “infiltrar” no cotidiano dos Park por meio de subterfúgios: cada membro assume uma função dentro da casa, escondendo seus laços familiares. A estratégia funciona — até certo ponto. O que o filme evidencia, porém, é que mesmo esforço, criatividade e disposição para trabalhar não são suficientes quando as estruturas sociais barram quem está na base.
A ideia de que “quem quer, consegue” é desconstruída com crueza. O que se vê é uma competição injusta, em que a origem social define quem pode errar, descansar ou ser notado. Enquanto os Park usufruem de tempo, espaço e proteção, os Kim são expostos à instabilidade, ao desprezo e ao odor que denuncia sua origem. O cheiro, aliás, é uma marca narrativa potente: uma barreira invisível que separa os “de cima” e os “de baixo”.
A cidade partida: moradia, trabalho e dignidade
O cenário urbano de Parasita é também um personagem. A casa subterrânea dos Kim se contrapõe à arquitetura aberta e ensolarada dos Park, evidenciando o impacto das condições de moradia sobre a saúde, o bem-estar e as possibilidades de futuro. Em tempos de chuvas, os pobres são alagados; os ricos, acolhidos por festas.
No Brasil, a realidade ecoa esse retrato. Milhões vivem em habitações precárias, sem acesso regular à água, saneamento ou segurança. Trabalhadores informais e domésticos, como os retratados no filme, seguem enfrentando jornadas longas, instabilidade e baixa valorização. A falta de políticas públicas que garantam habitação digna, transporte acessível e proteção social perpetua o ciclo de exclusão.
Olhar para baixo também é subir
O filme, ao misturar humor ácido, críticas sociais e drama, obriga o espectador a refletir sobre seu próprio papel nesse sistema: estamos mais próximos dos Park ou dos Kim? E o que fazemos, de fato, para tornar esse abismo menos profundo?
Parasita é incômodo porque revela o que muitos preferem não ver: que a desigualdade é estruturante, cotidiana e violenta. A obra não oferece soluções fáceis, mas aponta caminhos: acesso à moradia digna, valorização do trabalho informal, redução de desigualdades, justiça social. O cinema, aqui, serve como espelho e alerta. E a partir do desconforto, talvez possamos construir cidades mais justas, com menos porões e mais pontes.