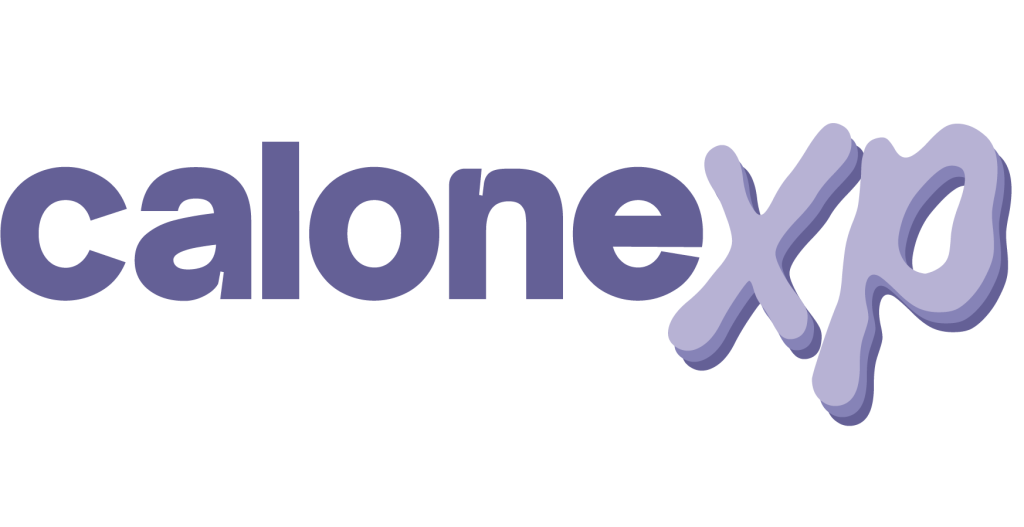Lançado no ano 2000 e dirigido por Laís Bodanzky, o filme Bicho de Sete Cabeças é baseado no livro “Canto dos Malditos”, de Austregésilo Carrano Bueno, cuja obra é inspirada em sua própria história. A produção acompanha Neto, um jovem cuja trajetória dentro de um hospital psiquiátrico escancara o colapso de um sistema que deveria cuidar, mas muitas vezes pune
Entre o Desconhecimento e o Estigma: a Internação Involuntária como Resposta
O enredo começa com a descoberta, por parte do pai de Neto, de um cigarro de maconha no casaco do filho. A partir dessa mínima transgressão, motivada mais por curiosidade juvenil do que por dependência, a família aciona o sistema de saúde mental e acaba levando Neto a uma internação involuntária.
O que se segue é uma escalada de violência simbólica e física, onde o tratamento psiquiátrico se confunde com punição. A falta de escuta, a rigidez dos diagnósticos e o despreparo dos profissionais criam um ambiente de opressão e silenciamento.
O filme mostra como a ignorância sobre saúde mental pode levar famílias bem-intencionadas a decisões trágicas. O pai de Neto, ainda que preocupado, age mais guiado pelo medo e pelo estigma do que pela compreensão. Esse gesto reflete uma realidade comum: muitas famílias, sem acesso à informação, acabam reforçando a lógica do isolamento e da exclusão.

Hospitais Psiquiátricos: de Espaços de Cuidado a Locais de Violência
Ao entrar no hospital, Neto encontra um universo marcado pela superlotação, pela falta de higiene, pela medicalização em excesso e pela perda total de identidade. Internos são tratados com indiferença, como se fossem casos sem rosto. Ali, não há espaço para subjetividades: a norma é obedecer, silenciar, sobreviver.
O longa denuncia um sistema que falha em tratar o sofrimento mental como uma questão de saúde pública e passa a enquadrá-lo como problema de segurança. O jovem, antes livre, torna-se preso, invisível, desamparado.
Da Crítica ao Modelo Manicomial à Urgência por Políticas Humanizadas
A grande potência de Bicho de Sete Cabeças é seu papel como denúncia social. O filme fortalece o debate sobre a necessidade da reforma psiquiátrica, mostrando como o modelo manicomial — excludente, punitivo, desumanizador — ainda sobrevive em diversas práticas institucionais.
Ao retratar o comportamento de Neto como algo que rapidamente é classificado como desvio ou ameaça, o filme também chama atenção para a forma como adolescentes são frequentemente julgados e rotulados, sem que suas histórias e contextos sejam minimamente considerados.
A narrativa escancara o quanto ainda falta, na sociedade e nas instituições, o básico: informação, escuta, cuidado.
Família, Diálogo e o Papel da Educação na Saúde Mental
A relação entre Neto e o pai é o espelho de muitas famílias brasileiras que, por falta de diálogo e conhecimento, tratam o sofrimento psíquico com autoritarismo. A ausência de um espaço para conversas honestas, sem medo ou julgamento, pode transformar pequenas questões em decisões extremas e irreversíveis.
A educação, nesse sentido, torna-se ferramenta fundamental. Não apenas a escolar, mas aquela que circula nos meios de comunicação, nas campanhas públicas, nas conversas entre gerações. Falar sobre saúde mental com clareza, responsabilidade e empatia é o primeiro passo para romper com os velhos muros da exclusão.
Um Filme que Continua Atual
Mais de duas décadas após seu lançamento, Bicho de Sete Cabeças continua atual. Em um país onde o número de internações involuntárias ainda assusta, onde a dependência química é frequentemente tratada como caso de polícia e onde os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) ainda lutam por estrutura e reconhecimento, a história de Neto é um alerta que não pode ser ignorado.
A saúde mental precisa ser tratada como direito — com políticas públicas eficazes, profissionais capacitados e, acima de tudo, com humanidade.